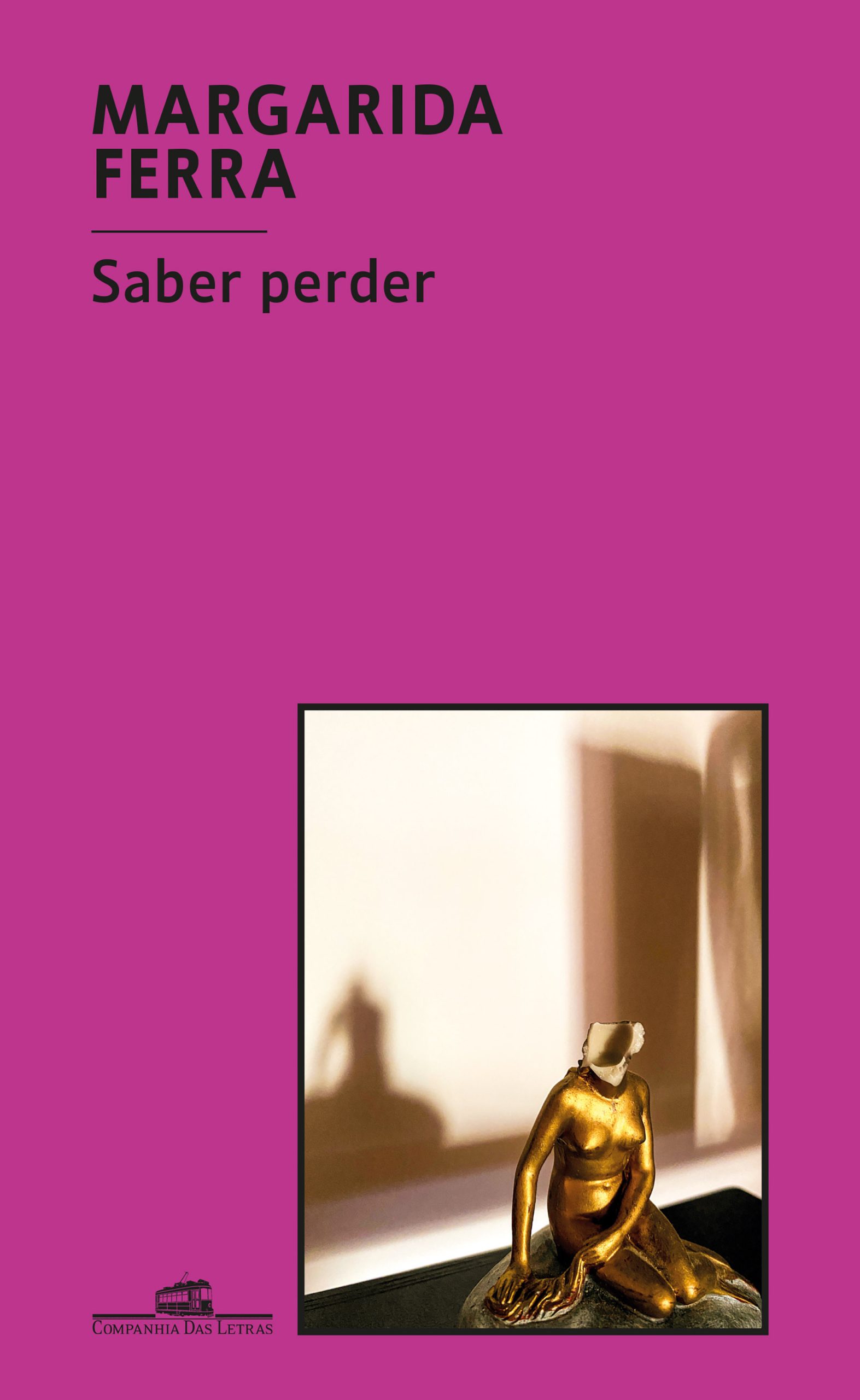1.
Prometi às pessoas da editora do meu novo livro que viria aqui falar-vos sobre Saber perder.
Por exemplo, falar sobre o que deixamos para trás, como uma reprodução da Torre de Babel de Brueghel que nunca foi minha e de que não sinto saudades.
*
(Lembro-me desse poster nos diferentes apartamentos onde morei: no chão, emoldurado, atrás de uma porta e depois em várias paredes acima de secretárias. Um cabeçalho no lugar onde se escreve, e sob o qual pouco escrevi.
Mais que não seja porque escrevo sobretudo em mesas que têm outras funções: mesas de cafés de bairro, tampos que servem para se almoçar ou dobrar roupa. Mesas que podem crescer com uma tábua que se põe no centro ou ficar mais curtas, com uma aba que se dobra. Mesas de jogo, acolhendo tabuleiros, amortecendo dados, cartas batidas, garrafas de vinho e licores. Ainda o computador sobre o colo ou o balcão da cozinha.
As escrivaninhas, como aquela encimada pela Torre de Brueghel, são lugares demasiado iluminados, assépticos, para que consiga aí interromper a vida e escrever – um gesto que tem cada vez menos de interrupção e cada vez mais de vida.)
*
Falar sobre Saber perder seria falar sobre o que é temporariamente nosso, como a essa reprodução da Torre de Babel, as casas onde morei, as mesas funcionais, que depressa tomadas por outros propósitos, não guardam vestígios os textos que nasceram sobre elas.
Em vez disso, o que vos leio é um texto com uma epígrafe visual que já tinha deixado para trás, escrito sob influência de mais uma crise de eco-ansiedade (palavra à qual podem tirar o prefixo).
2.
Bárbarie é uma onomatopeia do grego antigo: bar-bar-bar era o bla-bla-bla de línguas estranhas, incompreensíveis para os helénicos. Nos tempos modernos é um insulto para quem vem de outro lugar e usa um outro código.
Quando às portas da guerra, Sigmund Freud escreveu que havia um «pacto entre o progresso e a bárbarie» creio que não pensava na Torre de Babel e na cacofonia de vozes estrangeiras, consequência do empreendorismo. Freud referia-se à proximidade do nazismo e fascismo suportados por uma eficaz tecnologia de comunicação – do cartaz ao cinema, todos os media disponíveis foram mobilizados com os efeitos que conhecemos. (Isto lembra-vos alguma coisa?)
No episódio de Babel, a engenharia a desafiava um destino mundano, a tecnologia foi posta ao serviço de um sonho de se ser menos humano, mais próximo dos altos poderes. Porém, nos planos da Torre, o pacto de Freud era um efeito indesejado. Do progresso resultou a barbárie, como um castigo e não como parte do projecto maléfico. A barbárie literal, todos como outros e estrangeiros, foi a punição para os ambiciosos, que, como Prometeu, desafiaram a autoridade divina.
Vista dos dias de hoje, a condenação a falar diferentes línguas não me parece assim tão má. Seguindo a ficção da linha da mitologia, imagino que no grande estaleiro de Babel depressa a necessidade de comunicação se tivesse imposto e, experimentando-se, se tenha conseguido ir traduzindo, viajar de língua para língua. Sem a ajuda de robots, treinado nuances e interpretações. «Isto para mim quer dizer aquilo», tentativa e erro, num gesto em direção ao outro que nunca chega a alcançá-lo, apesar de ficar cada vez mais perto.
(Pergunto: será assim tão diferente quando falamos a mesma língua? Chegaremos mesmo ainda mais perto?)
Do desejo unificador de crescer em altura e tocar no divino, nasceu a diversidade e com ela a possibilidade de interpretar, procurar chegar ao outro.
Um dos meus filhos estuda Biologia. Explica-me como as palavras viajam no espaço e no tempo. Conta-me sobre termos que vieram da Índia por mar ou por terra, como evoluíram as línguas, da mesma forma como se desenvolveram as espécies. Ao longo de séculos, as línguas estenderam-se demoradamente sobre a terra como ecossistemas, mantendo-se vivas enquanto foram usadas.
Na história das línguas e na origem das espécies há ramos que se interrompem e outros que se desenvolvem – crescendo por motivos económicos e políticos, no caso de umas; adaptando-se ao ambiente que as rodeia, no caso de outras. O tempo das línguas é mais lento do que o tempo do «progresso». O das espécies mais demorado ainda.
Podemos não controlar a direção do que evolui: línguas, espécies – o chamado «progresso».
Mas será mesmo que não podemos escolher a velocidade tempo em que vivemos?
3.
Recuo a um tempo mais lento e lembro-me das aulas de Física, no bloco F, pavilhão pré-fabricado, há mais de 30 anos (ainda lá está). A professora explicava-nos a relação entre força, peso e superfície com a imagem de saltos de sapato. A pressão é uma grandeza física que depende da área, traduzem-me os meus filhos. Usado por duas pessoas com o mesmo peso, a pegada do salto alto, é uma marca mais profunda do que da de uma sola rasa. A força é a mesma, mas distribuída por uma superfície de contacto menor, e por isso mais concentrada, chega mais fundo. Quando a superfície de contacto é maior, como os sapatos que hoje calcei, a pegada é mais leve.
(É também o que explica que consigamos dormir numa cama de pregos. Muitos pregos distribuem entre si a pressão que o corpo faz sobre eles. O dano seria muito maior se nos deitássemos sobre apenas um.)
Vários séculos depois de Brueghel e mais ainda depois episódio do Velho Testamento, continuamos a explorar de forma vertical. Pressionando agora também no sentido inverso, mudámos o sentido da seta e apontamos para o centro da terra em vez de uma abóbada celestial. O caminho da evolução traçado no mapa e a direito.
É certo que, como nunca, cruzamos os céus: neste momento há cerca de um milhão de pessoas sem um verdadeiro chão. E é verdade que uma parte da humanidade nos seus projetos espaciais flirta com a ideia de descobrir o que ainda não tem fronteiras, «para o infinito e mais além». Mesmo que enormes são projectos pontuais.
Porém, enquanto espécie, continuamos obcecados em cumprir o fio de prumo, com particular interesse no que está abaixo da superfície. E por isso perfura-se. Combustíveis fósseis, metais raros, nada disso se encontra sem se escavar, mergulhar nas entranhas, como um longa agulha de precisão que procura e fere, alheia ao que se passa no piso térreo.
Vivemos já os efeitos deste empenho voraz, da audácia de extrair em vez colher o que é selvagem ou cultivado. De usarmos sondas, numa espécie de laparoscopia cega. (A palavra laparoscopia também vem do grego. Quer dizer ver ou explorar o flanco. O mesmo flanco, que em «dar o flanco», é o lado fraco que se expõe, vulnerável.)
Está à vista, no horizonte, aonde nos leva esta fúria. Drill, baby, drill. [Fura, amor, fura.]
Olho mais uma vez para a Torre de Brueghel, para o momento interrompido na imagem. Se fosse possível não conhecermos a legenda bíblica, não saberíamos se o que vemos é o fim ou o princípio. Se alicerces ou demolição. Se a conclusão de um novíssimo zigurate se a condenação ao desmoronamento. Ou pior, ao embargo de uma obra que se vai dissolvendo na paisagem, sendo ruína antes sequer ter servido. Nesse momento congelado, ficcionado na tela, há uma infinidade de possibilidades que chega à mesa.
Afastemos, então, a toalha do jantar manchada de vinho tinto. A epígrafe pode ser sombria, mas ainda nascem ervas daninhas debaixo do tampo.
Nas insónias na minha cama de pregos, antecipei este momento em que vos falo. Oiço-me dizer Svalbard em vez de Babel. Nordic Gene Bank em vez de uma torre em construção.
Em 2008, enquanto no Partido Republicano nos Estados Unidos se forjava o slogan Drill, baby, drill, agora repetido por Trump até nos furar… os tímpanos; na Noruega, no arquipélago de Svalbard – banhado pelo mar da Gronelândia – construía-se um silo discreto. Um bloco de cimento que guarda uma reserva de sementes, até ali mantida numa antiga mina de carvão – o Nordic Gene Bank, NordGen. Mantém-se aqui a biodiversidade botânica em potência, num seguro de vida planetário. Um banco de esperança.
Não sei se alguém aqui sabe quanto vale uma semente em possibilidades. Sabem? No meu câmbio, vale esperança exponencial sem descontos. Rebecca Solnit, escritora norte-americana, especialista em não desistir, escreveu que «a esperança é o machado com que partimos portas em caso de emergência».
Num tempo em que continuamos determinados a crescer na vertical – seja para o céu ou em direcção ao escaldante centro da terra – a esperança não é só uma arma poderosa, como escreveu Mandela na prisão. É mesmo a única saída possível.
A minha esperança é que olhemos para esse desejo perpendicular e inclinemos a recta. Que abandonemos os ângulos de 90 graus. Desejo que em vez de perfurar, toquemos a superfície, ocupemos com leveza o chão. No lugar da sonda que fere, escolhamos progredir como a água que se espalha chegando a pontos mais distantes, criando ligações com novos lugares, alastrando-se.
4.
Também é isso que faço nos textos que venho a escrever nos últimos anos: caminhar levemente pelos temas, seguindo trilhos, passagens secretas e atalhos, que ligam um e outro assunto.
Espero que este elogio da superfície não vos soe como uma apologia da superficialidade. Mas sinto que este tempo pede que nos espalhemos, que nos tornemos mais vastos: estendamos os braços e pernas em ramificações e raízes indiferentes às fronteiras. Um tempo que pede o chão comum como modo de alcançarmos os outros, que estão no mesmo plano do que nós. Um tempo que pede o trilho e não túnel, como a possibilidade de nos darmos a encontros inesperados com pessoas e as ideias novas que nos trazem.
E se eu preciso de ideias novas! Estou cansada de escrever acerca da escrita. Escrever para ver como escreveria se escrevesse, como propunha Margarite Duras. Escrever com a força do corpo, também ideia da Duras. (Este corpo que vive no mundo em que se fura e extrai da superfície da terra e logo abaixo dela, mas onde também se fazem cirurgias sem o bisturi como o imaginamos. Não invasivas, dizem os médicos.)
Escrevemos para traduzir o que ainda não existe em linguagem, para fazer nascer no texto. E nesse sentido: escrevo para criar ligações, como a Torre de Babel que nunca existiu no passado e NordGen que contém o futuro. Como a diversidade genética e a diversidade linguística, como aprendi com o meu filho que estuda Biologia – Natureza e Cultura ligadas e não necessariamente por linhas rectas, deixando-as em pólos opostos.
Quando há dias a Joana Bértholo me perguntou, a propósito de Saber perder, o que seria para mim vencer na escrita, respondi: acabar. Fechar um texto, um poema, um livro. E preciso mesmo de rematar agora. Estender-vos a mão, e esperar que as palavras que escolhi, as bifurcações por onde andei, possam encontrar algum sentido nas vossas vidas, passar de raspão nas vossas esquinas, fazer tangentes.
Repito, então o meu desejo, para sairmos disto juntos: inclinemos as setas. Como o junco que se inclina e não verga. Só na inclinação da aurora ou do entardecer, a luz do sol pode iluminar por segundos recantos que ainda não vimos. Paremos nesses segundos. Descalcemos os sapatos para andar em passos leves. Precisamos de menos pressão e de nos lembrarmos que também somos líquidos. É preciso deixar algumas coisas e lugares para trás para conseguir isso. Aceitar que passaram temporariamente por nós. Saberemos perdê-las?
«A esperança, como amor, significa correr riscos e ser vulnerável aos efeitos da perda. Reconhecer a incerteza do futuro e aceitar o compromisso de tentar dar-lhe forma»
Rebecca Solnit em Not to late
Texto de Margarida Ferra