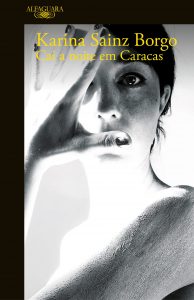por Karina Sainz Borgo
Com Delcy Rodríguez como presidente interina da República e Nicolás Maduro preso nos Estados Unidos, a Venezuela entra numa nova etapa, com o chavismo mais radicalizado no poder. Eis uma crónica na primeira pessoa sobre os dias que poderão mudar o rumo da história da Venezuela e alterar o curso político da região.
Sete da manhã de sábado, 3 de Janeiro de 2026. O telemóvel vibra. É a minha mãe. «Estão a bombardear Caracas». Para que não reste qualquer dúvida, acrescenta: «Os americanos». Em Madrid, a cidade onde vivo há vinte anos, reina o silêncio. Na Venezuela, as comunicações estão saturadas. Depois de várias tentativas, confirmo o essencial: a família que ainda lá vive está bem. Assustada e confusa, mas bem. Não há eletricidade em alguns pontos da capital por causa dos impactos. Vários helicópteros sobrevoam o vale. A base aérea de La Carlota está a arder. Também os quartéis de Fuerte Tiuna. E o porto de La Guaira. A informação chega a conta-gotas. Primeiro no Twitter. Depois em mensagens de texto. São as sete da manhã mais frias de que alguma vez me lembro. «Está a morrer mais gente, outra vez». Raios.
Tudo aconteceu de madrugada, no meio da escuridão. Parece que, em Caracas, é sempre de noite. A realidade é devastadora: os Estados Unidos lançaram pelo menos sete bombardeamentos sobre Caracas e zonas estratégicas da Venezuela, como parte da operação militar que culminou na captura e extração de Nicolás Maduro e da sua esposa para Nova Iorque, onde serão julgados por narcoterrorismo.
Ligo a televisão, abro o computador portátil e preparo um café que não consigo beber. Donald Trump publica uma mensagem nas redes sociais. O «presidente» Nicolás Maduro e a sua mulher, Cilia Flores, foram capturados e retirados do país por um comando especial das forças dos Estados Unidos. Reviro-me, resmungo. Falo sozinha. O senhor Trump está enganado. Maduro não é presidente. É um ditador. «Era mesmo necessário chegar a este ponto?», pergunto-me, ainda com o telemóvel na mão. No ecrã da televisão, a CNN mostra imagens de uma cidade
em chamas. «Quando é que o país não foi uma fogueira?», penso. Desta vez, porém, é muito pior.
Quem garante que os direitos humanos dos mais de mil presos políticos serão respeitados? O que pode fazer um regime decapitado e encurralado? A resposta a essas perguntas semeia o medo. A Venezuela só pode avançar através de uma transição democrática. O que ainda resta do regime venezuelano nunca falou dessa possibilidade.
«Era isto que esperávamos.» «Finalmente!» Leio as celebrações nas redes sociais. Quem sou eu para julgar a euforia de quem anseia por uma mudança? Nunca desejei a fuga do assassino, nem que o seu destino fosse decidido pelo presidente de outro país. Eu queria justiça, não isto. «O que estás a dizer? Finalmente vamos recuperar a liberdade!», leio nas mensagens que chegam ao meu telefone. «É terrível, mas é a única maneira», dizem-me. Vêm-me à mente os mil presos políticos detidos e torturados nas prisões venezuelanas. Tento contactar as organizações de direitos humanos que acompanham os seus casos. Aqueles que consigo contactar não têm informação suficiente. Reina a confusão. Os responsáveis fora da Venezuela também não me dão mais detalhes. Escrevo à minha amiga, a escritora e jornalista Margaryta Yakovenko. Finalmente compreendo a sua angústia perante o avanço russo sobre a Ucrânia.
— Se os EUA estão a atacar a Venezuela, é porque Putin vai ficar com a Ucrânia.
Mantenho-me em silêncio.
— As imagens são terríveis — insiste a minha amiga —. Diz aos teus familiares que estão lá para se deslocarem para cidades mais pequenas; de certeza que em Caracas não há abrigos.
— Tudo isto me parece inverosímil e, ao mesmo tempo, terrível — murmuro, sem ter muito claro se estou a falar com a Margaryta ou comigo própria.
Quando George Bush pai ordenou uma operação para retirar Noriega do poder no Panamá, eu tinha sete anos. Lembro-me dos meus pais — advogados — a levarem as mãos à cabeça, indignados. Chegaram mesmo a recortar fotografias das tropas em solo panamenho e a colá-las no frigorífico, escrevendo por cima: «Não à invasão!». Agora, com 43 anos, assisto, de boca aberta, à maior e mais dolorosa ingerência alguma vez vivida pelo país onde nasci. O regime de Nicolás Maduro e dos seus acólitos é ilegítimo, ditatorial e assassino, mas não deveria ter chegado ao fim desta forma. «Assim não». Falta-me justiça. Tem de ser na Venezuela —
onde foram mortas mais de 20.000 pessoas e torturadas outras duas mil — que ele deve prestar contas. Abano a cabeça, tento clarificar as ideias. Impossível. Atendo o telefone. Toca uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Não há nada a celebrar, insisto, mas quem me ouve parece convencido de que este será o primeiro grande passo da Venezuela rumo à democracia, uma palavra que de repente me parece remota, inalcançável, quase cercada por arame farpado.
O dia 3 de Janeiro avança. A imprensa estrangeira noticia que muitos venezuelanos no exílio celebram com alegria, bandeiras e cânticos, em cidades como Doral, na Florida, Madrid ou Santiago do Chile. Os vídeos partilhados nas redes por quem permanece em Caracas mostram um céu em chamas, explosões e detonações, e o espanto de quem, ainda atónito, se atreve a celebrar a chegada daqueles que, finalmente, os vieram libertar de Nicolás Maduro. «Somos livres», diz um rapaz que grava com o telemóvel os destroços na rua. As imagens são terríveis, mas os desejos que enterram parecem-me ainda piores.
A conferência de imprensa de Donald Trump, prevista para a manhã de 3 de Janeiro, atrasa-se uma hora. Entretanto, a líder da oposição e Prémio Nobel da Paz, María Corina Machado, celebra o fim de Nicolás Maduro no poder e garante que chegou a hora da liberdade. Pouco depois das cinco da tarde, hora espanhola, Donald Trump aparece numa conferência de imprensa da qual espero os detalhes mais importantes — ou, pelo menos, os essenciais. O resultado é um punhado de frases, cada uma mais desconcertante do que a outra. O presidente dos Estados Unidos refere-se à Venezuela como se fosse uma propriedade, uma extensão dos seus interesses ou, pior ainda, um palco de operações do seu amor-próprio.
«Já chegámos, mas ficaremos até que se produza a transição adequada»;
«Vamos dirigir a Venezuela até que a liberdade esteja assegurada»;
«Foi uma operação executada com rapidez e precisão; nem um único soldado morreu»;
«As companhias petrolíferas dos Estados Unidos irão reparar a infra-estrutura petrolífera danificada»;
«Estamos prontos para lançar um segundo ataque, se for necessário»;
«Maduro e a sua esposa enfrentarão um julgamento em solo norte-americano»;
«O ditador ilegítimo Maduro dirigia uma rede criminosa»;
«Não vamos permitir que pessoas más continuem no poder».
Menciona pelo menos vinte vezes a palavra petróleo. A democracia, a paz ou a libertação dos presos políticos estão completamente ausentes do discurso. Às perguntas da imprensa sobre uma transição democrática e o papel do presidente eleito Edmundo González e da Prémio Nobel María Corina Machado, Trump responde com desdém: «É uma mulher muito simpática, mas não tem apoio nem respeito dentro do país». Fica claro que será o seu governo, através do secretário de estado Marco Rubio, a controlar a Venezuela e os seus recursos petrolíferos.
Atordoada, ando às voltas pela sala da minha casa. Ligo para Caracas, para contactos da oposição, mas ninguém atende. A imagem de Nicolás Maduro — primeiro de fato de treino, algemado e com os olhos vendados, depois de chinelos, escoltado por agentes da DEA para ser julgado juntamente com a mulher — faz explodir a certeza que me perfura desde o início do dia: isto não augura nada de bom. Se houver uma restituição democrática, ela não pode acontecer sem uma parte do regime; mas muito menos com o núcleo duro do regime — Delcy Rodríguez — e é ainda mais inimaginável que se consiga fazê-lo excluindo a oposição democrática.
Quem manda hoje na Venezuela — a vice-presidente Delcy Rodríguez — não fala de justiça. E é disso que se precisa. Não há cenário possível para a Venezuela que não seja democrático. Caso contrário, reinará para sempre a escuridão e a longa noite venezuelana.
A crónica deste 3 de Janeiro de 2026 é uma tragédia, mas não abdico da obrigação de assumir este rasgão e explicá-lo. Se escrever cada linha desta crónica prega o caixão da minha própria esperança, também me obriga a deixar à vista uma verdade atroz: na Venezuela, 30 milhões de pessoas continuam sob um regime autoritário, cerca de mil presos políticos correm perigo e mais oito milhões permanecem privados do direito de regressar. Se Trump exige aos líderes do regime acesso total ao petróleo como condição para uma mudança política, os democratas devemos exigir, com igual ou maior força do que o presidente dos EUA, a amnistia e libertação de todos os homens e mulheres presos e torturados.
Que o regime de Maduro é assassino, ilegítimo e está associado ao narcoterrorismo, ao tráfico de ouro, de armas e de pessoas é uma verdade incontestável. Mas isso não é incompatível com o facto de Donald Trump estar a fazer ressurgir na Venezuela o velho princípio da América Latina como espaço onde os Estados Unidos devem impedir a influência de potências externas — neste caso, Rússia, China e Irão. Muito recuou a nação venezuelana — e o próprio conceito de democracia — para se ver presa numa completa escuridão civil, legal e soberana.
Ao longo de 26 anos, o povo venezuelano percorreu todas as etapas. Protestou pacificamente. Participou em processos eleitorais — todos fraudulentos —, mas nas eleições de 28 de Julho de 2024 demonstrou a sua vitória. A resposta do regime foi violência e repressão. Em 17 processos de tentativa de diálogo, as forças democráticas comprometeram-se a procurar acordos para uma transição ordenada. Em todas as ocasiões, o regime quebrou a sua palavra. As violações dos direitos humanos, o empobrecimento da nação, a perseguição política e uma diáspora de oito milhões de venezuelanos não são matéria de opinião. O regime ditatorial só entende a força e decidiu que as coisas chegariam a este ponto. E não só o regime, mas também os seus aliados.
A Venezuela pediu ajuda às democracias da região. O que está a acontecer hoje é também responsabilidade daqueles que fingiram não ver. Se chegámos até aqui, é porque uma parte da comunidade internacional preferiu fazer negócios com o regime de Maduro e legitimar o seu despotismo. Quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos afirma que há terrorismo de Estado na Venezuela; quando o Conselho de Direitos Humanos, com o Alto Comissariado em Genebra, o confirma; quando se confirmam mais de 20.000 execuções extrajudiciais e a prisão de jovens, idosos e crianças, fica claro que quem não denuncia este horror é porque tem outros interesses.
A intervenção dos EUA alimenta as narrativas mais ideológicas e oferece um álibi a um regime assassino e ilegítimo que pode entrincheirar-se, fragmentar-se ou sucumbir matando. Quem garante que os direitos humanos dos mais de mil presos políticos serão respeitados? O que pode fazer um regime decapitado e encurralado? A resposta a essas perguntas semeia o medo. A Venezuela só pode avançar através de uma transição democrática. O que ainda resta do regime venezuelano nunca falou dessa possibilidade. Quem manda hoje na Venezuela — a vice-presidente Delcy Rodríguez — não fala de justiça. E é disso que se precisa. Não há cenário possível para a Venezuela que não seja democrático. Caso contrário, reinará para sempre a escuridão e a longa noite venezuelana.
Karina Sainz Borgo é autora do livro Cai a noite em Caracas.